Os
regimenes alimentares da humanidade e suas
transformações: origens e desenvolvimento
do mercado de açúcar
Autor: Antonio Oswaldo Storel
Júnior
(Mestre em Desenvolvimento Econômico, Espaço
e Meio Ambiente pelo Instituto de Economia da
UNICAMP.)
Neste artigo analisamos as linhas mais gerais
das transformações nas dietas humanas
a partir do conceito de regimes alimentares (FRIEDMANN;MCMICHAEL,
1989). Analisamos também o surgimento e desenvolvimento do
mercado de açúcar e como as prescrições
dietéticas e tradições gastronômicas
incentivaram ou combateram seu consumo em cada
período.
Buscamos, assim, construir um quadro de referência
histórico e teórico que permita
evidenciar alguns dos fatores que podem estar
impulsionando a crescente demanda por açúcar
orgânico nos países desenvolvidos.
A análise desses fatores permitirá
avaliar a potencialidade do mercado de açúcar
orgânico, enfatizando as questões
relativas à demanda e ao mercado internacional tanto dos alimentos orgânicos
como dos adoçantes e do açúcar
de cana.
1.1. As transformações nos regimes
alimentares: aspectos históricos e teóricos.
O conceito de regime alimentar proposto por (FRIEDMANN;MCMICHAEL,
1989) com base na teoria regulacionista procura
ressaltar as relações sistêmicas
entre as dietas alimentares e os fenômenos
econômicos e políticos, no nível
global, que resultaram na formação
dos Estados Nacionais no século XIX e na
expansão mundial das relações
capitalistas, com a conseqüente
construção de um sistema agroalimentar
mundial. Visa, assim, especificar a história
política do capitalismo, entendida a partir
da perspectiva da alimentação.
Delineando periodizações amplas,
o estudo dos regimes alimentares tem identificado
três períodos que correspondem a
diferentes regimes de acumulação
e regulação social:
1. O chamado primeiro regime alimentar, constituído
no período final da hegemonia britânica
(1870 - 1914);
2. O segundo regime alimentar, correspondendo
ao período “fordista” centrado
na hegemonia americana no pós - II Grande
Guerra (1947 - 1973);
3. O terceiro regime alimentar que Harriet Friedmann
chama de período do modelo “liberalprodutivista” correspondendo ao momento atual da globalização
financeira, a partir do final da década
de 1980 (FRIEDMANN, 2000).
Um acalorado debate tem dominado as ciências
sociais sobre a conveniência da utilização
de conceitos como “fordismo” e “pós-fordismo”
na análise dos desenvolvimentos da agricultura
e da alimentação. As críticas
apontam a transposição mecânica
para a agricultura de conceitos desenvolvidos
para a explicação de processos de
organização industrial (GOODMAN;WATTS,1994); a incapacidade teórica de incorporar
a natureza no fenômeno social (MARSDEN,
1994); o não reconhecimento do status ontológico
das diferenças geográficas e culturais
como parte da
própria gênese do capitalismo contemporâneo
(HARVEY, 1996); a estilização do
padrão dominante levando à modelização
a-histórica; e até a negação
da existência de uma fase pós-fordista
que possa ser caracterizada como um regime de acumulação
essencialmente diferente do fordismo (AMIN;ROBINS,
1994; BONANO, 1999).
Embora esse debate seja válido, e muitas
das críticas absolutamente pertinentes,
para os propósitos do presente trabalho,
a periodização traçada por
(FRIEDMANN;MCMICHAEL, 1989), mostra-se adequada para traçar um quadro
geral de referência histórico e visualizar
em grandes linhas os papéis que o açúcar
jogou e continua a jogar no desenvolvimento humano.
Não nos interessa aqui a caracterização
detalhada dos regimes de acumulação.
Basta-nos, do conceito de regime alimentar, a
idéia de que as dietas alimentares são
profundamente determinadas por
fenômenos políticos, sociais e econômicos
mais gerais, e representam uma das mais importantes
esferas para a regulação das economias
capitalistas, tanto nos países desenvolvidos,
como nos subdesenvolvidos.
Paralelamente à análise do papel
do açúcar nos regimes alimentares
explora-se as mudanças nas concepções
ideológicas sobre dietética ou alimentação,
evidenciando suas relações com as transformações no processo de produção
e consumo do açúcar. Procuramos,
assim, evitar as análises simplificadoras
polarizadas, ou pelo pólo da oferta ou
pelo pólo da demanda, tomados como determinantes causais absolutos, e que tem
dominado as análises econômicas (WILKINSON,
2000; GOODMAN;DUPUIS, 2002).
O conceito de “ideologias” dietéticas
é aqui utilizado apenas para indicar o
conjunto de argumentos coerentemente articulados
que foram utilizados pelos capitais e governos
para justificar
determinadas práticas alimentares que lhes
favoreciam. Uma ênfase maior é dada
aos movimentos dietéticos nos Estados Unidos
devido à influência que as práticas
alimentares da potência
hegemônica atual tem sobre o resto do mundo,
além de, para os nossos propósitos,
os Estados Unidos são, também, o
país isolado com o maior mercado orgânico
do planeta (menor apenas que o
mercado orgânico europeu no seu conjunto)
e o que tem as maiores taxas de crescimento, sendo
sua
compreensão necessária, portanto,
para a análise da potencialidade do mercado
de açúcar orgânico.
O primeiro regime alimentar esteve centrado nas
importações de trigo e carne pela
Europa dos estados coloniais entre 1870 e 1914
(FRIEDMANN;MCMICHAEL, 1989). A Inglaterra impôs
às demais nações européias
o livre-comércio, rompendo com o “exclusivo
metropolitano” – que obrigava as colônias
a venderem apenas às suas metrópoles
– como forma de evitar o aumento dos
seus próprios preços de salários
e matérias primas, já que a agricultura
européia não acompanhava o
crescimento da demanda de produtos agrícolas
provocada pelo seu acelerado processo de industrialização.
Ao mesmo tempo em que baixava seus custos, a Inglaterra
ampliava o mercado
para seus produtos industrializados, exportando
para os estados coloniais: trabalho, capital e
bens manufaturados, especialmente para a construção
de ferrovias.
“Nós concebemos a formação
dos Estados-nação no século
dezenove como um processo sistêmico, no
qual os estados coloniais jogaram um papel chave.
Exportando produtos agrícolas temperados
competitivos com a agricultura européia,
os estados
coloniais independentes: (i) abasteceram o crescente
proletariado europeu com gêneros alimentares
básicos, e (ii) tornaram-se a base de um
novo tipo de comércio dentro de uma
nova ordem inter-nacional, paralelamente à
relação colonial por meio da qual
as metrópoles administravam diretamente
as exportações da agricultura tropical”
(FRIEDMANN;MCMICHAEL, 1989, p.94, tradução
do autor)
A antiga complementaridade colonial, entre produtos
tropicais exóticos e bens manufaturados,
foi se transformando. Ela deu lugar a uma verdadeira
divisão inter-nacional do trabalho com
um novo comércio mundial de produtos temperados
e manufaturados, produzidos por Estados-nação
independentes, ex-colônias, por exemplo,
os Estados Unidos, que replicavam os métodos
da agricultura e da indústria européia,
com técnicas e custos mais baixos, apropriados
para o abastecimento de grande escala da crescente
classe trabalhadora européia.
Os produtos coloniais passaram assim a competir
com similares produzidos pelo trabalho assalariado,
na Europa e fora dela, e a enfrentar a competição
via substituição de produtos tropicais
por temperados, como ocorreu, por exemplo, no
caso do açúcar de cana substituído
pelo açúcar de
beterraba na França. A expansão
das relações capitalistas pelo mundo
a partir da primeira revolução
industrial foi, assim, acompanhada da expansão
da dieta européia baseada no trigo, na
carne e no
leite.
O segundo regime alimentar envolve o conjunto
de relações de produção
e consumo que estiveram enraizadas numa forte
proteção estatal e na organização
da economia mundial sob a hegemonia dos Estados
Unidos no pós-II Grande Guerra.
O final do processo de descolonização
e a extensão dos Estados nacionais para
a África e Ásia acabou por destruir
a base política para a antiga especialização
colonial, agora sob blocos comerciais mundiais
fortemente protegidos, centrados nas metrópoles.
A integração da periferia ao segundo
regime alimentar se fez então como mercado
consumidor, através de crescentes importações
de trigo, principalmente dos Estados Unidos e
pelo declínio dos mercados para exportações
tropicais, devido à substituição
das importações nos países
capitalistas avançados, notadamente do
açúcar e dos óleos vegetais.
Os capitais agro-industriais promoveram uma fantástica
reestruturação dos setores agrícolas
em todas as economias nacionais do mundo. A agricultura
se tornou muito mais integrada com a indústria,
a montante como consumidora de químicos
e máquinas, e a jusante com os produtos
agrícolas se transformando de bens para
uso de consumidores finais, para bens intermediários
na produção de alimentos processados
“duráveis”. Nos países
capitalistas avançados, foi o complexo
integrado de produção de carnes
que melhor exemplificou este processo.
As exportações de alimentos dos
países desenvolvidos para o chamado Terceiro
Mundo ultrapassaram muitas vezes as importações
de produtos tropicais pelos mesmos. A exportação
de
cereais para países pobres – principalmente
trigo – barateados pela modernização
da agricultura nos países ricos, ou mesmo
os programas de ajuda alimentar “humanitária”,
deslocaram e destruíram os mercados dos
produtos tradicionais da agricultura desses países,
intensificando o processo de proletarização
e de dependência de importações
de alimentos dessas populações.
Fortemente regulado pelos Estados Nacionais, o
processo envolveu políticas de subsídio
e crédito bancário, que foram as
chaves para garantir a expansão da produção,
principalmente dos
países ricos. No entanto, os mercados não
se expandiram no mesmo ritmo. As dificuldades
da dívida dos países pobres e a
entrada de países da Europa como competidores
com as exportações
norte-americanas levaram a uma crise de superprodução
com uma grande derrubada dos preços agrícolas
e com eles dos preços da terra, conduzindo,
assim, a uma crise de endividamento
generalizada do setor agrícola nos anos
80.
O modelo “fordista” – que se
baseia em produtos homogêneos, padronizados,
para mercados de massa e em tecnologias que aumentam
a produtividade e reduzem os custos de produção
– está sendo, atualmente, amplamente
questionado por transformações técnicoeconômicas
e inovações organizacionais baseadas
na flexibilidade, na segmentação
de mercados, e no uso intensivo de tecnologias
de informação, que estão
permitindo contornar a saturação
dos mercados de massa e a tendência persistentemente
baixista nos preços por meio de uma maior
"individualização" do
produto. Isto está provocando uma mudança
de ênfase: da quantidade para a qualidade.
O terceiro regime alimentar se mostra, em primeiro
lugar, composto de tendências contraditórias
e muito menos nítido que os regimes anteriores.
O tênue consenso existente nas ciências
sociais sobre a caracterização dos
períodos, das estruturas sociais, econômicas
e políticas dos dois primeiros regimes
alimentares e do processo de transição
do primeiro para o segundo regime alimentar, desaparece
por completo quando se analisa a crise do segundo
regime alimentar e a transição para
um possível terceiro regime alimentar.
No entanto, fazendo um esforço de síntese,
poderemos caracterizar o terceiro regime alimentar,
como aquele em que a globalização
financeira estendeu-se ao âmbito da produção,
tornando os capitais do sistema agroalimentar
mais livres das regulações dos Estados
nacionais para incluir ou excluir localidades,
matérias-primas e mão-de-obra, de
acordo com sua conveniência.
O livre movimentos dos capitais não significou
ampliação do comércio livre
de produtos alimentares, antes, pelo contrário,
um ambiente de extremo protecionismo nos países
desenvolvidos
e de maiores facilidades para as corporações
transnacionais de alimentos capturarem mercados
alimentares nos países semi-industrializados
da periferia, países esses que passaram
a ter os preços de suas exportações
cada vez mais reduzidos.
Certos traços do período fordista
se aprofundam, tais como a concentração
e centralização de capitais, uma
maior integração vertical na produção
e a intensificação da utilização
de
tecnologias que, no entanto, estão agora
voltadas à produção em massa,
não de produtos homogêneos, mas de
produtos diferenciados para nichos específicos.
Produtos estes, que podem inclusive ser gerados
em unidades menores ou quase artesanais, mas que
respondem a padrões de qualidade definidos
por grandes atores que comandam os elos do processamento
industrial e da distribuição, através
de marcas multinacionais.
O fim das regulações nacionais nos
países subdesenvolvidos deixou os produtores
agrícolas à mercê da volatilidade
dos capitais agroindustriais, estabelecendo relações
instáveis destes com as
indústrias processadoras, aumentando sua
subordinação e implodindo os espaços
de representação política
junto aos Estados nacionais.
O modelo alimentar chamado “americano”,
dependente fortemente da carne bovina, tornouse
a base do modo de consumo dos países desenvolvidos,
pois exigia, além da herança cultural
européia, populações de renda
elevada. Sob essa base, os cultivos de grãos
foram destinados principalmente à alimentação
do gado, por exemplo, o milho e a soja.
Criaram-se, assim, incentivos para que firmas
gigantes do processamento alimentar, tais como
Kraft, Unilever e Nestlé, utilizassem essas
matérias-primas como base da elaboração
de
alimentos complexos “duráveis”,
compostos principalmente com base em açúcares
e óleos (por exemplo, os oriundos do milho
e da soja), inventando dentro de suas cozinhas-laboratórios,
numa velocidade cada vez maior, um grande número
de novos produtos diferenciados a partir desses
“compounds” básicos, associados
às matérias-primas tradicionais
como trigo e leite. Assim reduziu-se o espaço
para as exportações dos países
tropicais, cujos produtos foram substituídos
por cultivos próprios e/ou produtos sintéticos.
No topo da pirâmide social, no entanto,
a elite yuppie voltou-se para alimentos artesanais,
frescos e naturais. Enquanto a massa dos consumidores
dos países desenvolvidos teve acesso a
esses novos produtos, a partir, não da
versão artesanal, mas do sucedâneo
criado pela diferenciação nos produtos
da indústria processadora de alimentos.
Inclusive o aumento de consumo de alimentos frescos,
nas camadas de maior renda, esteve associado à
maior disponibilidade de freezers e ao seu maior
pré-processamento (produtos prontos-para-o-uso),
subordinando crescentemente também a produção
de frutas, verduras e legumes aos grandes capitais
industriais ou da distribuição.
A busca de uma alimentação “natural”
e “artesanal” pela elite, e sua tradução
pela produção em massa de novos
produtos industrializados diferenciados são
desenvolvimentos contraditórios do
terceiro regime alimentar. Segundo (WILKINSON,
2000), estas contradições ficam
evidentes quando comparamos os atuais esforços
de multinacionais de agroquímicos para
introduzir a produção e o consumo
de organismos transgênicos, uma estratégia
claramente “comandada pela oferta”,
identificada com o modelo “fordista”,
com a escala mundial da mobilização
contrária aos transgênicos ou com
a explosão da demanda por alimentos orgânicos,
que inclusive tem obrigado grandes empresas a
modificar e adaptar suas estratégias.
Enquanto que o potencial radical para reorganização
do sistema agroalimentar representado pelas biotecnologias
foi identificado desde o momento de seu nascimento
pelas ciências sociais,
pouca atenção foi dada ao crescimento
do mercado orgânico, ocorrendo largamente
à margem do sistema agroalimentar, e que
está hoje passando de uma atividade marginal
ao mainstream.
Isso ocorreu, segundo (WILKINSON, 2000), porque
grande parte do debate sobre a teoria da demanda
e do consumidor permaneceu polarizado ideologicamente:
de um lado pela visão neoclássica
da "soberania do consumidor" e por outro
pelas abordagens mais deterministas da economia
política marxista e estruturalista da "demanda
como efeito reflexo da produção
e do consumidor como moldado pelos oligopólios
e seduzido pela publicidade".
Essa polarização foi recorrente
no rastro das políticas neoliberais e dos
debates sobre as privatizações de
muitos serviços públicos, justificadas
pela idéia que os direitos dos cidadãos
são melhor atendidos pela democracia do
mercado. Ao mesmo tempo em que esta concepção
enfraqueceu os movimentos contestatórios
ao nível da produção, tais
como os sindicatos, ajudou também contraditoriamente
a acelerar a politização das questões
relativas ao consumidor.
Na visão de (GOODMAN;DUPUIS, 2002), esses
fatos reforçam a proposição
de que os recentes conflitos em torno de questões
sobre “como conhecemos nossa alimentação”,
que aparecem, por exemplo, nas disputas entre
movimentos orgânicos e governos sobre a
definição de “o que é
orgânico?”, envolvem muito mais que
o objetivo de dar maior “transparência”
ao sistema de produção (ao “como
produzimos nossa alimentação”)
e expressam o confronto de projetos e atores sociais
que estão crescentemente transformando
a questão da produção/consumo
alimentar numa arena política, em vez de
meramente um espaço de alienação
do produtor/consumidor pelo “fetichismo”
da mercadoria (GOODMAN, 1999).
Contribuições recentes de várias
disciplinas tem ressaltado, no entanto, tanto
as limitações à soberania
do consumidor, condicionado pela inércia
de padrões culturais de comportamento e
restrito à escolha entre bens e serviços
rivais similares previamente ofertados, num ambiente
de elevada concentração e centralização
de capitais, como também a emergência
de novas relações entre produtores
e consumidores envolvendo novos atores, como as
grandes redes de varejo, por exemplo, que, a partir
do uso intensivo das tecnologias de informação
para conhecimento em detalhe dos hábitos
dos consumidores, e do seu alto grau de concentração
de capitais, começam a desencadear estratégias
conflitantes com padrões dominantes e anteriormente
estabelecidos no âmbito da produção
industrial.
No entanto, longe do paradigma neoclássico
da "soberania do consumidor" esse novo
modelo "orientado pela demanda" não
tem capacidade de questionar a primazia de longo
prazo dos
interesses organizados na produção.
Não basta a mera identificação
de tendências individualizadas da demanda
para a realização do consumo, é
preciso a existência de capitais e tecnologias
que
iniciem a reorganização da oferta,
enfrentando e deslocando os padrões dominantes.
A produção de produtos especializados
e diferenciados para atender nichos específicos
de consumidores longe de representar uma ameaça
à massificação da produção
e a seu controle
centralizado pelos grandes capitais está
representando uma reestruturação
tecnológica e organizacional que tem fortalecido
o poder global das grandes corporações
transnacionais de
alimentos (FRIEDLAND, 1994)
Esta mesma reestruturação tem permitido
a emergência como ator dominante, dividindo
o espaço com a esfera da produção,
dos elos finais das cadeias do sistema agroalimentar,
isto é, da esfera da distribuição,
que na sua luta pela hegemonia na concorrência
intercapitalista e pela fidelidade e confiança
dos consumidores, começa a "carregar"
para dentro do sistema produtivo, não apenas
o consumidor como novo ator social, mas junto
com ele, a esfera dos interesses "cívicos"
da sociedade, incluindo, por exemplo, a preservação
do meio ambiente.
Interpretações antropológicas
tem insistido que a relação do homem
com seu alimento se dá por meio da confiança.
Para explorar o ambiente a sua volta, sem ser
envenenado nesse processo, o homem procura manter-se
cuidadosamente dentro dos limites da sabedoria
acumulada e incorporada nos costumes alimentares
de cada cultura, estabelecendo rotinas alimentares
que conferem confiança no alimento (FONTE,
2000)
A “dieta fordista” e a "revolução
verde", transformando os alimentos de bens
perecíveis e locais para bens “duráveis”
e globais, contribuíram para dissociar
os alimentos das suas referências naturais,
vale dizer, locais, de conhecimento e domínio
cultural. A emergência de graves problemas
associados à contaminação
de alimentos ampliou, no entanto, a percepção
social do risco
relacionado aos alimentos e reforçou as
incertezas da atual fase de transição
entre regimes alimentares, na qual a confiança
no fundamento científico das normas alimentares
ainda depende do
apoio da referência "natural"
(local/cultural), para a qual as biotecnologias
representam uma grande ameaça.
Do mesmo modo, a formulação de estratégias
para reconstrução da confiança
dos consumidores no alimento está na base
da recente concentração de capitais
no setor de supermercados, a qual não esteve
associada à homogeneização
dos padrões de demanda, pelo contrário,
foi justamente o seu descompromisso com esquemas
pré-determinados de oferta, que lhe garantiram
competitividade e crescimento calcados na capacidade
de identificar e atender aos padrões de
demanda, que além de extremamente diversificados,
transformam-se com muita rapidez.
Além disso, esta emergência da dominação
dos elos finais das cadeias agroalimentares resultou
também da redução de custos
proporcionada por novos arranjos institucionais
e avanços na
área da logística a partir do uso
intensivo das tecnologias de informação
(GREEN;SANTOS, 1991; GREEN;SCHALLER, 1999).
No terceiro regime alimentar, a maior importância
da logística decorre também de um
processo de reabilitação da matéria
viva incluída nos produtos alimentares
(alimentos frescos), frente à matéria
morta (alimentos processados - desestruturados
e recompostos). Passam a ser mais solicitadas
aquelas técnicas que permitem a aceleração
da circulação dos produtos, em vez
de aquelas que desnaturam o conteúdo dos
alimentos. Essas transformações
estão permitindo maior valorização
dos produtos alimentares (BYÉ, 1999).
Duas táticas básicas têm emergido
como resposta a essa necessidade de reconstrução
da confiança do consumidor no alimento:
1. a primeira, relacionada ao "mundo doméstico"
da teoria das convenções (WILKINSON,
2002), é a que busca reforçar os
laços da produção com um
lugar e um tempo social e culturalmente definidos,
defendendo o patrimônio culinário,
a gastronomia específica associada a comunidades
e grupos locais, a uma determinada tradição.
Neste sentido enquadram-se os selos e certificados
de origem e a revalorização do artesanal
como bem de luxo;
2. a segunda, relacionada ao "mundo cívico"
da teoria das convenções, é
a de garantir a confiança através
de certificados de adesão a padrões
estabelecidos e auditados por organizações
independentes, transformando a transparência
nas relações internas entre os diferentes
atores numa rede agroalimentar (incluindo aí
suas relações com a natureza) numa
virtude "comoditizável". Nesse
último caso enquadram-se a certificações
orgânicas (FONTE, 2000).
1.2. A emergência global do mercado de alimentos
orgânicos
O termo "orgânico" que hoje qualifica
tanto produtos como processos produtivos, agrícolas
ou industriais, por meio de certificados, começou
como denominação de um movimento
social que defendia a adoção de
práticas regenerativas da fertilidade dos
solos agrícolas através da aplicação
de resíduos animais e vegetais previamente
transformados em húmus, imitando os métodos
da própria natureza. Este termo referia-se
também à idéia, presente
nestas primeiras formulações, que
considera a prática agrícola e a
unidade produtiva como um "organismo",
ressaltando as interdependências biológicas
entre solos, plantas, animais e homem (HOWARD,
1947).
Hoje em dia, o termo "orgânico"
tornou-se amplamente hegemônico para a designação
de produtos ambientalmente diferenciados, e tem
extrapolado as fronteiras da agropecuária,
sendo utilizado também em relação
até a produtos como tintas, por exemplo.
No entanto, seu significado atual se restringe
a produtos cujo processo de produção
(incluído aí desde as matérias
primas até o consumo final) evita ou exclui
amplamente insumos não permitidos, em geral
substâncias químicas sintéticas.
Esta significação atual do termo
"orgânico", também referida
como “ênfase no insumo”, é
muito mais restrita e revela um importante afastamento
da significação original do termo
“orgânico”, muito mais próxima
da noção de "sustentável"
(GUTHMAN, 2000).
A incrível ascensão do mercado orgânico,
dos nichos ao mainstream, está relacionada
tanto à lenta e marginal construção
de novos estilos de vida, que criaram circuitos
alternativos de integração entre
produção e consumo e foram sendo
apoiados por redes sociais de produtores, consumidores,
técnicos e ONG's, e que caminharam para
a institucionalização do conhecimento
e da prática acumuladas via instrumentos
como a certificação, como também
à emergência de novos atores-chave
tais como, os grandes supermercados e os governos
dos países desenvolvidos (com suas políticas
agrícolas de subsídios para a conversão
orgânica), os quais disputam com as ONG's
e os movimentos ambientalistas a primazia da confiança
do consumidor.
No processo de reformas da Política Agrícola
Comum, os países da União Européia
adotaram o subsídio à conversão
orgânica como uma resposta a duas ordens
de pressões políticas distintas:
Por um lado, esse subsídio responde às
pressões dos movimentos ecológicos
que viam aagricultura convencional como a grande
vilã da destruição da natureza
e ganharam força política com a
ascensão dos partidos “verdes”.
Por outro, responde também às pressões
dos agricultores europeus que resistem a transformarem-se
em meros “guardiões da paisagem”
e se recusam a abandonar seu papel econômico
como produtores agrícolas, num ambiente
de estoques elevados e constantes ameaças
de superprodução. A agricultura
orgânica, sendo mais intensiva em mão-deobra,
foi também uma forma política de
garantir que muitos agricultores europeus continuassem
na atividade agrícola (ABRAMOVAY, 1999).
O mercado orgânico resulta, por outro lado,
de um novo ambiente regulatório das relações
público/privado, onde interesses privados
ganham papéis de governança e regulação
de setores produtivos antes exercidos exclusivamente
por organizações estatais. O setor
varejista escolhe quais os selos, certificados
e garantias serão apresentados aos seus
clientes e passa a atuar como se fosse um "representante"
dos interesses dos consumidores, os quais tendem
a depositar sua confiança neste elo mais
visível da cadeia produtiva. Essas novas
relações permitem ao Estado transferir
para o setor varejista parte das tarefas de fiscalização
e vigilância sanitária, ameaçadas
de desmantelamento pela crise fiscal, e redirecionar
sua atuação para a regulação
de áreas “novas” como, por
exemplo, o meio ambiente (MARSDEN, 1994).
O que foi dito acima não implica avaliar
como mais eficiente o novo modelo, podendo este,
na verdade, estar contribuindo para o agravamento
dos atuais problemas sanitários enfrentados
pelos países desenvolvidos.
Nos últimos anos, uma série de tragédias
sanitárias envolvendo alimentos –
food scares – tais como, a contaminação
radiativa dos rebanhos europeus após o
acidente de Chernobyl, as epidemias de salmonella
dt104, da síndrome da "vaca louca"
e, mais recentemente, da febre aftosa na Inglaterra,
da Coca-cola contaminada por agrotóxicos
na França, e dos frangos com dioxina na
Bélgica, tem posto a nu, em eventos súbitos
e catastróficos, as implicações
para o consumidor das relações econômico-produtivas,
em geral ocultas, em determinadas redes agroalimentares,
as quais, em virtude da estruturação
de rotinas de confiança, funcionam normalmente
como "caixas pretas".
Nessas ocasiões, as intrincadas relações
entre os diferentes atores de uma rede agroalimentar
explodem, obrigando em geral a uma completa reconstrução
dessas relações com base em novos
esquemas de garantias de confiança e padrões
de qualidade atuando sobre elementos pontuais
da rede (GOODMAN, 1999). Essa exigência
"forçada" de transparência
é o combustível principal do mercado
orgânico nos países desenvolvidos,
o qual tem crescido a taxas exponenciais.
A demanda mundial de alimentos orgânicos
mostrou um crescimento rápido e explosivo,
num momento em que todos os mercados agrícolas
mostram sinais de saturação. O estudo
do International Trade Centre, da UNCTAD, mostra
que as vendas combinadas de bebidas e alimentos
orgânicos nos principais mercados consumidores
passaram de apenas US$ 2 bilhões em 1989,
para US$ 13 bilhões em 1998, US$ 16 bilhões
em 1999 e US$ 19 bilhões em 2000 (INTERNATONAL
TRADE CENTRE, 1999). Outra estimativa, da organização
Organic Monitor, avalia que em 2001 o mercado
mundial de orgânicos esteve entre US$ 21
bilhões e dos US$ 26 bilhões com
taxas de crescimento estiveram próximas
dos 23% ao ano nos últimos 5 anos (YUSSEFI;WILLER,
2002).
Tabela 1 - VALOR E PARTICIPAÇÃO
DOS ALIMENTOS ORGÂNICOS NOS PRINCIPAIS
MERCADOS EM 2000

Fonte: (INTERNATONAL TRADE CENTRE, 1999, tradução
do autor)
A demanda do consumidor por produtos orgânicos
está deixando para trás a oferta
em vários países desenvolvidos.
Este elevado nível da demanda em relação
à oferta tem significado que a introdução
de novos produtos à oferta está
restringida a produtos primários sem processamento,
como frutas frescas, hortaliças e leite
(MARSDEN, 1999).
O setor leiteiro já está desenvolvendo
produtos orgânicos de "primeira geração"
com pouco processamento como iogurtes, queijos
frescos e leites saborizados. Os produtos de "segunda
geração" são em geral
"multi-ingredientes" e estão
associados ao crescimento de comidas
preparadas ou semi-preparadas. Os nutracêuticos
e funcionais, de "terceira geração"
somente tem sido desenvolvidos quando a oferta
já está amplamente assegurada e
a demanda é elevada. O desenvolvimento
de produtos orgânicos de segunda e terceira
geração pode representar uma oportunidade
para a apropriação do mercado orgânico
por grandes empresas do sistema agroalimentar
(MARSDEN, 1999).
Na opinião de (GOODMAN, 2000), a apropriação
do mercado orgânico por grandes empresas
já está acontecendo. O conflito
ocorrido nos Estados Unidos, quando mais de 275
mil comentários públicos rejeitaram
as Regras Propostas para o Programa Orgânico
Nacional do
Departamento de Agricultura (USDA), obrigando
o órgão a recuar da posição
inicial de incluir a permissão do uso de
organismos geneticamente modificados, radiações
ionizantes e lodo de esgoto
como fertilizante nas normas para produção
orgânica, indica que o resultado final,
publicado em 8 de março de 2000, apesar
da luta dos movimentos agroecológicos,
foi totalmente compatível com os
esquemas neoliberais de regulação,
com foco centrado nos insumos permitidos ou não,
na produção, na rotulagem, na “escolha
individual” e no aumento de mercado. Para
(GOODMAN, 2000), com as
regras do jogo bem estabelecidas, a indústria
que se desenvolve estará permanentemente
exposta, ainda mais diretamente, às forças
da competição e da acumulação
capitalistas.
Uma onda de fusões e aquisições
promovidas pelas gigantes da indústria
alimentar norteamericana que ocorreu logo após
a consolidação das normas para produção
de produtos orgânicos nos Estados Unidos
indica, todavia, que grandes investimentos no
mercado orgânico em breve já
podem estar atingindo a maturação,
podendo mudar o caráter mais restrito que
até então marcou esse mercado.
As maiores empresas do sistema agroalimentar já
tomaram posição na disputa pelo
mercado orgânico. O principal crescimento
da indústria de alimentos orgânicos
poderá se dar, tanto pelo lançamento
de novas linhas de produtos como pela inclusão
de opções orgânicas nas linhas
já
existentes de produtos convencionais, a depender
da estratégia que essas grandes empresas
venham a adotar na sua entrada no mercado orgânico.
Recentemente, gigantes transnacionais processadoras
de alimentos adquiriram as empresas e marcas mais
promissoras da indústria norte-americana
de alimentos orgânicos, as quais vinham
crescendo independentemente desde os anos 70’s.
As aquisições cobrem várias
das linhas de produtos convencionais, conforme
mostra a lista a seguir na qual as empresas transnacionais
aparecem sobrescritas:
Dean Foods – White Wave Inc.;
Heinz – Hain Food Group + Celestial Seasonings
(EUA) + Linda Mc Cartney (UK) + Dole + Gerber;
Kellogg – Worthington Foods + Kashi Company
(La Jolla) + Morningstar Farms;
General Mills – Small Planet Foods;
Kraft – Boca Burguer + Balance Bar;
Nestlé – Power Bar;
Con Agra – Healthy Choice (SWIENTEK, 2000,
elaboração do autor).
O mercado norte-americano de produtos orgânicos
movimentou US$ 8,0 bilhões em 2000 e estima-se
que chegue, em 2010, a US$ 21,9 bilhões
(SLOAN, 2002). Esses dados ainda não refletem
o resultado da entrada das transnacionais no mercado
orgânico, que só se fará sentir
mais
adiante, quando os investimentos recentes começarem
a maturar e as linhas orgânicas dessas empresas
chegarem ao consumidor final.
A consolidação da regulação
de produtos orgânicos nos Estados Unidos,
numa versão compatível com as normas
internacionais, apesar de algumas importantes
diferenças, abre também a possibilidade
da expansão das exportações
da indústria norte-americana de alimentos
orgânicos processados, o que reforça
o interesse das transnacionais, como já
alertava artigo de (LOHR, 1998).
Esse espetacular crescimento atual do mercado
orgânico nos países desenvolvidos
e a entrada das transnacionais da indústria
processadora de alimentos sugerem que os fatores
que estão impulsionando essa performance
não são apenas conjunturais e, em
vez disso, assentam-se
justamente nas contradições herdadas
do sucesso do modelo de produção
do segundo regime alimentar.
Assim, equipados com essas caracterizações
básicas dos fenômenos históricos
e sócioeconômicos que transformaram
os sistemas agroalimentares até os dias
atuais, podemos agora percorrer com maior vagar
a trajetória do açúcar pelos
caminhos dos diferentes regimes alimentares.
Acreditamos poder mostrar que o sabor doce e os
adoçantes, com o açúcar de
cana entre eles, em função das peculiaridades
de seu uso pela humanidade, constituíram
componentes-chave nas transformações
dos regimes alimentares, e conseqüentemente
das ideologias dietéticas e
nutricionais que os justificaram, sendo a sua
relação com o desenvolvimento capitalista
mais íntima do que normalmente suspeitamos.
Uma compreensão mais profunda dessa relação
permitirá
perceber os desafios e potencialidades das transformações
recentes do mercado de adoçantes, de açúcar
e, em especial, do mercado para o açúcar
orgânico.
1.3. De nobre a proletário: O triunfo do
açúcar de cana como alimento básico
da dieta humana no primeiro regime alimentar
A história dos adoçantes na alimentação
humana pode ser dividida em antes e depois da
descoberta e difusão do açúcar
de cana. Até o início da Era Cristã,
a humanidade conhecia a doçura no paladar
através do mel, e de algumas frutas e vegetais.
Algumas teorias sobre a evolução
do homem sugerem que uma especial pré-disposição
fisiológica dos primatas para o sabor doce
foi uma resposta evolutiva que ajudou-os a encontrar
e identificar os vegetais mais comestíveis
e mais ricos em nutrientes, tornando o sabor doce
singular e diferente de qualquer outro, com uma
aceitação muito mais universal que
outros sabores, tais como o salgado, o amargo,
o azedo, ou o picante, que em geral respondem
a preferências mais pessoais (MINTZ, 1999).
Poderia estar aí uma primeira razão,
certamente não a única, para o sucesso
da expansão do açúcar de
cana, especiaria que sempre encontrou apreciadores
em quase todas as culturas e classes sociais,
em diferentes épocas da história
humana, possuindo quase que uma vocação
para se tornar precocemente, já no século
XVII, a primeira verdadeira commodity mundial
no comércio entre os povos.
Planta originária da Nova Guiné,
a cana-de-açúcar foi difundida,
após sua domesticação, em
ondas sucessivas pelo continente asiático.
A forma mais popular de consumo humano da planta
era a mastigação do colmo, para
sorver o suco rico em sacarose, hábito
que ainda sobrevive em todas as regiões
produtoras do planeta. Provavelmente na Índia,
por volta de três séculos antes do
início da Era Cristã – ou
três séculos depois, segundo outras
versões – foi processado pela primeira
vez o açúcar cristalizado a partir
do suco da cana. Relatos de acompanhantes de Alexandre,
O Grande, descreveram o açúcar de
cana em sua viagem pela Índia ocidental
em 325 a.c.. Datam de 286 a.d. os primeiros escritos
chineses que mencionam a cana-de-açúcar,
utilizada como pagamento de tributos de reinos
ao sul do rio Ganges (DEERR, 1949).
Levada para a Pérsia dos Sassânidas
pelo intercâmbio comercial e cultural que
esta mantinha com a Índia, foi por volta
do ano 600 a.d., nos jardins botânicos da
Escola de Medicina de Gondisapur, que as primeiras
técnicas rudimentares de refino e clarificação
do açúcar foram
desenvolvidas, permitindo a partir daí
a conservação, o transporte e, assim,
a expansão do comércio do produto.
Com plantações em escala muito maior
que as existentes na época, que se restringiam
ao consumo doméstico, a Escola de Medicina
de Gondisapur difundiu por todo o mundo árabe
o uso de açúcar como remédio,
devido ao seu poder revigorante e facilitador
da absorção de outras substâncias
medicinais, tornando-o mais tarde a base da farmacopéia
européia (LIPPMANN, 1941).
Assim se refere, na época de Napoleão,
BRILLAT-SAVARIN no seu livro “Fisiologia
do Gosto”: “O açúcar
entrou no mundo pelo laboratório dos boticários,
onde deve ter desempenhado um papel importante;
pois, para falar de alguém a quem faltasse
algo de essencial, dizia-se: ‘É como
um boticário sem açúcar.’”
(SAVARIN, 1995, p.105).
Importante notar que Gondisapur (ou Jundishâpûr)
foi um centro de cruzamentos científicos
multiculturais cuja importância não
foi pouca na construção da civilização
ocidental. O rei persa Khosroes Anûshîrwân
(531-579) levou para lá significativo número
de sábios indianos e abrigou monges cristãos
nestorianos perseguidos, além de filósofos
neoplatônicos atenienses. Foi ali que se
preparou a futura expansão da civilização
do Islã. Foi ali, também, que se
fizeram as primeiras traduções para
o árabe a partir do grego e do sânscrito,
caminho que legou ao ocidente Aristóteles,
Euclides, Hipócrates e a numeração
posicional indiana, base do cálculo moderno
(IFRAH, 1997). O açúcar de cana,
como mercadoria, desde sua “invenção”,
foi um empreendimento que exigiu considerável
mobilização de capital e “engenho”
humano, estando, portanto, articulado aos processos
civilizatórios mais amplos.
Através das conquistas dos Mouros, e do
comércio de importantes centros italianos
como Veneza e Amalfi, o açúcar foi
levado para a Europa e, por volta de 755, Abderrahman
I introduziu a cana-de-açúcar no
Sul da Espanha, onde havia um clima subtropical
adequado ao crescimento da planta. As cruzadas
também contribuíram para a disseminação
do uso do açúcar na Europa, através
dos cristãos que puderam apreciá-lo
no Oriente e continuaram a utilizá-lo no
seu retorno ao Ocidente. No século XV,
com a interrupção do comércio
com o Oriente devido à tomada de Constantinopla
pelos turcos foram criadas refinarias na costa
da Sicília e ampliaram-se as plantações
na Espanha para atender o crescente consumo dos
países do Norte da Europa.
Até o século XVII, no entanto, o
açúcar era uma mercadoria rara e
cara, utilizada principalmente como remédio
(inclusive na formulação de inúmeros
remédios usados contra a Peste Negra),
e parcimoniosamente em minúsculas quantidades
nos temperos como especiaria, menos
para adoçar do que para suavizar os sabores
dos outros ingredientes. “O açúcar
apenas faz mal ao bolso” (SAVARIN, 1995,
p.105)
Nas cortes da Europa o açúcar foi
usado por muito tempo como meio de preservação
de frutas, no entanto, seu uso mais espetacular
foi como um bem de luxo e ostentação.
Subtleties – literalmente ‘sutilezas’,
eram grandes esculturas de açúcar
extremamente caras e detalhadas, geralmente na
forma de catedrais, navios ou castelos, que ornamentavam
festas e cerimônias reais e eclesiásticas
nos séculos XV e XVI, como fantásticas
demonstrações de riqueza e poder
(MINTZ, 1985).
O grande desenvolvimento do consumo de açúcar
está, no entanto, associado à mania
dos europeus por três novas bebidas: o chocolate,
o café e o chá, bebidas estimulantes
que, a partir da segunda metade do século
XVII, ocuparam um importante espaço ao
lado das bebidas alcoólicas tradicionais.
Nas respectivas regiões de origem, o chocolate,
o café e o chá eram bebidas sem
adoçantes, tendo um certo sabor amargo.
Entre os europeus essas bebidas tornaram-se moda
numa
época em que o açúcar obtinha
grande sucesso. O rápido desenvolvimento
das três novas bebidas foi, por isso, acompanhado
por um crescimento paralelo do consumo de açúcar
usado como adoçante; além disso,
aumentou progressivamente o uso do açúcar
na culinária e o hábito de acompanhar
o chá com bolos e biscoitos doces, como
na Inglaterra (LEMPS, 1998).
A produção teve de acompanhar o
crescimento da demanda. De Chipre, Egito, Palestina,
Sicília e Espanha, onde os árabes
a plantaram, os portugueses carregaram a cana-de-açúcar
e técnicos açucareiros para as ilhas
atlânticas como a Ilha da Madeira e São
Tomé. Assim também
fizeram os espanhóis nas Canárias.
Nessas ilhas as plantações se desenvolveram
bem e estas se tornaram os principais fornecedores
de açúcar da Europa. Das Ilhas Canárias
Cristóvão Colombo levou-a para Hispaniola
(Ilha de Santo Domingo) no Caribe em sua segunda
viagem. Pouco depois já estava em Porto
Rico, Jamaica, Cuba e no Brasil, espalhando-se
por muitos lugares do Novo Mundo.
Apesar de espalharem as plantações
de cana por quase toda América espanhola,
os espanhóis concentraram-se na extração
do ouro e nunca chegaram a ser grandes fornecedores
de açúcar à Europa, sendo
a sua produção destinada principalmente
ao consumo local, em função de sua
prioridade à ocupação dos
territórios conquistados. Os portugueses,
ao contrário, encontraram no açúcar
um sucedâneo para o ouro, multiplicando
as plantações de cana no Brasil
e enviando quase a totalidade da produção
para atender a demanda do Velho Mundo. O açúcar
enviado via Lisboa para Antuérpia, desviou
para este porto, em detrimento de Veneza, o centro
das atividades de refino e redistribuição
do açúcar na Europa do Norte (LEMPS,
1998).
A demanda crescente pelo açúcar
na Europa levou os portugueses a enfrentarem os
desafios técnicos e organizacionais que
a produção em larga escala de açúcar
colocava. A cana quando madura tem que ser cortada
rapidamente depois de queimada e moída
mais rapidamente ainda depois de cortada, exigindo
uma coordenação precisa entre o
campo e a fábrica. Antecipando características
do processo de industrialização
que apenas se iniciava na Europa, o sistema de
plantation, estabelecia métodos racionais,
especialização e divisão
de tarefas na produção do açúcar,
uma disciplina quase militar para a força
de trabalho viabilizada com mão-de-obra
escrava, levando Steven C. Topik a afirmar que
os engenhos de açúcar foram as primeiras
fábricas modernas (TOPIK, 1998). Foi essa
resposta inovadora dos portugueses que se tornou
a base da produção do Novo Mundo.
O açúcar da plantation viabilizou
as primeiras fases da colonização
do Brasil,
sustentando os portugueses frente às disputas
com os outros estados europeus.
Os holandeses copiaram o modelo português,
inclusive a técnica do branqueamento do
açúcar, transplantando-o para as
Antilhas e espalhando o sucesso da plantation
pelo Novo Mundo (CANABRAVA, 1981). Seguramente
mais de 10 milhões de africanos foram trazidos
para plantações nas Américas
nos mais de quatro séculos em que vigorou
a escravidão (MINTZ, 1999)
É importante lembrar, no entanto, de que
o consumo de açúcar aumentava na
Europa não só quantitativamente,
mas espalhava-se por todas as camadas sociais,
tornando-se crescentemente um produto de massa,
de consumo popular.
Sidney MINTZ destaca o fato, geralmente pouco
entendido, de que a contribuição
das plantations coloniais para a constituição
dos modernos estados nacionais e para o sucesso
do capitalismo não foi apenas econômica,
mas também nutricional (MINTZ, 1999). Não
se tratou
apenas da oferta de açúcar, tabaco,
café, chocolate e chá – mercadorias
exóticas para satisfazer ávidos
consumidores de novidades, estabelecendo um novo
e promissor comércio – mas principalmente
de oferecer drogas estimulantes (WEINBERG;BEALER,
2001) e fontes calóricas baratas para a
nova dieta de um crescente proletariado europeu,
libertando a acumulação de capital
de custos elevados de reprodução
da força de trabalho.
A queda do preço e, portanto, da antiga
associação entre açúcar
e poder, foi acompanhada de uma crescente oferta
à frente de uma demanda popular também
crescente. “Coma como um rei!” poderia
ter sido o slogan do novo produto que se tornaria
importante na dieta proletária de toda
Europa.
É interessante notar que, particularmente
na Inglaterra, a precocidade nas transformações
sociais e econômicas que fizeram emergir
o capitalismo industrial, correspondeu ao desenvolvimento
de um acentuado gosto pelo açúcar.
Bolos e biscoitos doces passaram a ser o
complemento ideal do chá da tarde. Em 1700-1709,
os ingleses consumiram 2 kg de açúcar
por habitante por ano, passando para 6,7 kg em
1792, 9 kg em 1800-1809, atingindo cifras próximas
do consumo atual no final do século XIX:
40 kg por habitante por ano (LEMPS, 1998).
O triunfo do açúcar de cana foi
paradoxalmente coroado com a “invenção”
do açúcar de beterraba, quimicamente
indistinguível do açúcar
de cana, que valeu a Benjamin Delessert a medalha
da Legião de Honra conferida pelo próprio
Napoleão, pois permitiu à França
a superação da escassez causada
pelo bloqueio britânico. Como decorrência,
permitiu também a ampliação
do consumo popular de açúcar pela
Europa.
A Alemanha, a França, a Áustria-Hungria
e a Rússia impuseram-se como grandes produtores
e consumidores de açúcar de beterraba.
Em 1900 com a demanda explodindo, a produção
total de açúcar comercializada na
Europa chegou a 8.350.000 toneladas, dessa produção
5.489.000 toneladas provinham do açúcar
de beterraba (LEMPS, 1998).
O sucesso do açúcar como alimento,
como fonte calórica barata de amplo consumo
e aceitação popular, foi, assim,
decorrente de uma lenta evolução
no decorrer da qual foram se ampliando as formas
de seu uso, agregando-se novos usos aos anteriores,
desde remédio que facilitava a absorção
de outras substâncias medicinais, produto
de luxo e ostentação, símbolo
da nobreza, conservante de frutas e outros alimentos,
especiaria culinária essencial e finalmente
alimento básico na dieta da classe trabalhadora.
Tal processo esteve articulado ao centro das grandes
transformações que resultaram do
capitalismo originário da Revolução
Industrial, e transformaram precocemente o açúcar
numa commodity mundial, padronizada e produzida
em unidades de grande escala, voltada tanto a
fornecer calorias baratas como a adoçar
o paladar das grandes massas de proletários
europeus.
Na Europa dos séculos XIV, XV e XVI, como
mostra J-L Flandrin a partir da França,
as prescrições médicas e
dietéticas informavam a culinária
e as práticas alimentares de uma forma
muito mais profunda do que é hoje geralmente
reconhecido (FLANDRIN, 1998). O alto valor das
especiarias, que ao lado do ouro e da prata, foram
os motivos que levaram os europeus à conquista
dos oceanos e de outros continentes, não
era devido ao uso daquelas como conservante, nem
devido à absorção de costumes
árabes pelos europeus. Na verdade muitas
especiarias eram utilizadas como medicamentos
e quase todas as que eram utilizadas na cozinha
também tinham funções medicinais.
O consumo de especiarias era associado simbolicamente
com a riqueza e a saúde.
Eram os manuais de saúde que informavam
os usos culinários das especiarias e as
maneiras que os alimentos deveriam ser preparados
para se tornarem mais saborosos, e mais fáceis
de digerir.
Cada sabor tinha um significado dietético
preciso, e a arte da culinária era a arte
de sua combinação para atingir-se
a máxima digestibilidade dos alimentos,
muito semelhante às cozinhas atuais da
Índia, da China, do Extremo Oriente ou
das Antilhas. Essa era a origem da distinção
social conferida pelo costume dos banquetes à
base de pratos fortemente adocicados e picantes.
No decorrer dos séculos XVIII e XIX essa
prática alimentar vai sendo progressivamente
abandonada. A variedade de especiarias vai diminuindo
e os benefícios da boa alimentação
passam a concentrar-se nos alimentos em si, tratando
os temperos com muito mais desconfiança.
Tanto na culinária como na literatura e
nas demais artes, a invenção do
“bom gosto”, isto é, do gosto
“clássico”, que condenava os
excessos e buscava a pureza e a simplicidade,
ocorreu num momento
em que os progressos da química e da fisiologia
experimental desconsideravam a antiga dietética
hipocrática, muito antes que uma nova dietética
tivesse conseguido estabelecer-se.
Assim, da dietética imposta pela medicina,
que associava as especiarias à saúde
e à riqueza, a classe dominante pode libertar-se
para o desenvolvimento do “bom gosto”,
do gosto culinário delicado e refinado,
que na busca de pureza e simplicidade resultou
na gula e na gastronomia (FLANDRIN, 1998).
Esse fenômeno correspondeu ao declínio
do uso do açúcar como elemento de
distinção social pelas classes abastadas.
O açúcar foi saindo da refeição
principal das elites e se retirando para o reduzido
espaço da sobremesa, ao mesmo tempo em
que era crescente seu uso como alimento básico
na dieta da classe trabalhadora.
Desde o século XI até o século
XVII, quando o açúcar era raro e
caro, a medicina hipocrático-galênica
dominante na sociedade européia via-o como
essencialmente benéfico sendo um poderoso
agente terapêutico por ser um dos poucos
alimentos a associar os “humores corporais
quente e úmido”. Tomás de
Aquino excluía o açúcar das
restrições alimentares durante o
jejum da quaresma por considerá-lo apenas
um “facilitador da digestão”.
No entanto, o consumo em massa do açúcar
vai levantar a questão moral e médica
de sua legitimidade como fonte de prazer. Essa
característica essencial do açúcar,
sua ligação com o prazer, o converterá
alternadamente em anjo e demônio, tanto
nos discursos religiosos como médicos e
dietéticos no ocidente (FISCHLER, 1995).
Entre os séculos XVI e XVII, quando o consumo
de açúcar apenas começa a
massificar-se, a revolução da medicina
alquímica a partir de Paracelso encara
a doçura do açúcar como uma
máscara para uma “negrura secreta”
muito poderosa e maléfica capaz de queimar
os órgãos internos e atacar o sistema
nervoso. A sacarofobia desenvolvida a partir dessas
idéias também se alimentou de relações
com fenômenos políticos e religiosos
como a Reforma Protestante, estabelecendo a base
de idéias que seriam recuperadas muito
mais tarde, no século XX (FISCHLER, 1995).
Nos meados do século XIX, no entanto, a
ascensão da fisiologia científica
na medicina passa a ver o açúcar
como “alimento respiratório”
essencial a partir de uma idéia de Justus
von Liebig. A revolução tecnológica
na produção do açúcar,
com o domínio de sua extração
da beterraba, garantindo abundante oferta e preços
baixos, correspondeu, no discurso médico,
a um elogio de suas propriedades energéticas
essenciais, sendo recomendado como alimento prioritário
para soldados e atletas (FISCHLER, 1995).
Nos Estados Unidos do final do século XIX,
por outro lado, surgiu um movimento por uma reforma
alimentar que ficou conhecido como New Nutrition
(LEVENSTEIN, 1988). Com base nas descobertas “científicas”
da época sobre os diferentes compostos
que constituíam os alimentos –
proteínas, gorduras e carboidratos –
e que pareciam ter uma função fisiológica
bem definida, a New Nutrition preconizava inculcar
à classe operária as noções
tais como a equivalência química
entre todas as proteínas (“o feijão
vale por um bife”) e esperava que os operários
gastassem uma parte menor de seus salários
recorrendo a fontes nutricionais mais baratas,
podendo assim reservar mais dinheiro para alojamento,
saúde, vestuário e inclusive para
alguns produtos de luxo.
Os partidários da New Nutrition achavam
particularmente perdulários os gastos dos
trabalhadores ítalo-americanos com frutas,
verduras e legumes, uma vez que se entendia, naquela
época, que estas eram constituídas
principalmente de água. Diziam: “Se
todos os alimentos são
formas diferentes dos mesmos compostos alimentares,
das mesmas ‘matérias-primas’
na ‘fábrica’ do corpo humano,
então escolham-se as mais baratas!”.
Pouco resultado obtiveram, entretanto, junto aos
trabalhadores, que sempre identificaram a América
como a terra da fartura, ou seja, a terra onde
se pode comer muita carne de boi. Todavia, no
início da primeira década do século
XX, a New Nutrition começou a exercer influência
sobre a classe média americana (LEVENSTEIN,
1988).
Associando os “excessos” nutricionais
dos trabalhadores a todas espécies de doenças,
à insalubridade dos lares, ao trabalho
de crianças, à prostituição
e enfim à destruição moral
do homem, esse movimento estava, na verdade, repercutindo
de uma forma mais “científica”,
movimentos anteriores dos anos 1830 e 1840, tais
como os do pastor William Sylvester Graham.
Defensor ardoroso da farinha de trigo integral,
Graham associava a alteração do
“estado natural” dos alimentos e o
consumo de certos tipos de alimentos - como a
carne, o álcool, as especiarias e o açúcar
- ao aumento da excitação nervosa,
da propensão à masturbação
e às
tentações sexuais, e à destruição
da “força vital” do homem.
No ideário da New Nutrition o consumo de
açúcar pela classe trabalhadora
poderia em princípio ser até bem
visto, desde que constituísse fonte barata
de energia para sustentar o esforço despendido
no trabalho e fosse consumido na justa necessidade,
no entanto o consumo de açúcar era
associado com o prazer e a lascívia, assim
como nas idéias do pastor Graham (LEVENSTEIN,
1998). Essas exerceram forte influência,
desde em utopistas como Charles Fourier e Henry
Thoreau, até em seitas religiosas como
os Adventistas do Sétimo Dia.
O principal herdeiro de Graham foi, no entanto,
o “doutor” John Harvey Kellogg. Junto
com outros como Horace Fletcher, da “mastigação
conscienciosa”, Kellogg ofereceu através
da aura da “ciência”, uma proposta
alimentar adequada aos tempos em que os braços
eram mais necessários nas indústrias
que nas cozinhas domésticas e exortaram
as jovens damas de classe média a praticar
a moderação alimentar, a renunciar
aos temperos ricos das classes superiores, a seus
ingredientes
exóticos, às preparações
complicadas, e aos intermináveis jantares
onde era servida uma sucessão infinita
de pratos (LEVENSTEIN, 1998).
A força desses apelos era incrementada
pela corda puritana que eles faziam vibrar. As
classes média e alta americana, assim,
diferentemente de suas congêneres européias,
desenvolveram precocemente uma certa disposição
para privilegiar os cuidados com a saúde
em relação aos
prazeres gastronômicos (LEVENSTEIN, 1988).
Essa disposição das classes médias
iria orientar a indústria processadora
de alimentos para um movimento, já na década
de 1920, que ficou conhecido como “vitaminomania”
e que contou com vultosos investimentos no lançamento
de inúmeros novos produtos da indústria
de alimentos processados, cujo principal apelo
era seu conteúdo em “vitaminas”,
associando a palavra ‘vitamina’ às
idéias de vitalidade, vigor, energia. Em
que pesem os delírios publicitários
da época, a maior
parte dessa “energia” provinha, na
verdade, do açúcar (LEVENSTEIN,
1993).
Essa realidade ficou patente, quando entraram
no negócio das “vitaminas”
as indústrias farmacêuticas, as quais
multiplicaram suas fórmulas e pílulas
miraculosas. Incapazes de rivalizar com os grandes
grupos farmacêuticos que propunham as “vitaminas”
numa forma muito mais prática, a indústria
alimentar abandonou a campanha em favor das vitaminas
e concentrou-se nas vantagens dos seus produtos,
por exemplo, o fornecimento de uma “energia
rápida”, agora explicitamente traduzida
no seu conteúdo de açúcar
(LEVENSTEIN, 1993).
A partir dessa experiência, no entanto,
a indústria de alimentos processados aliou-se
à American Medical Association e ao governo
para limitar a comercialização de
“vitaminas” e estabelecer uma tese
que vigorou até os anos 70’s: “os
alimentos americanos tinham qualidade
inigualável e continham todos os nutrientes
necessários bastando consumi-los para obter-se
uma boa saúde” (LEVENSTEIN, 1998).
1.4. Do açucareiro à moega (1):
O açúcar de cana como matéria
prima para indústria no segundo regime
alimentar
O complexo de alimentos duráveis que emergiu
no pós II Grande Guerra transformou, no
entanto, as características dos alimentos
de um conjunto local e perecível de ingredientes,
para um produto manufaturado, globalmente comercializável
e com uma longa e resistente vida. Depois do complexo
de carnes, os mais importantes insumos do complexo
de alimentos duráveis como um todo, são
os óleos vegetais e os adoçantes
(FRIEDMANN;MCMICHAEL, 1989).
No caso dos adoçantes, e também
dos óleos vegetais, exatamente pelo seu
caráter chave no modelo dos alimentos duráveis,
as indústrias processadoras de alimentos
dos países capitalistas avançados
não se limitaram apenas a jogar uma região
produtora contra outra e a substituir o produto
tropical pelo produto temperado, como é
o caso da produção de açúcar
de beterraba substituindo a do açúcar
de cana.
Na verdade, empreenderam grandes inversões
de capital no desenvolvimento de pesquisa científica
para superar obstáculos tecnológicos
que impediam a substituição das
matérias primas naturais importadas dos
países tropicais, como o açúcar
de cana, por matérias primas sintéticas
produzidas domesticamente, tais como os adoçantes
sintéticos, imitando, por exemplo, o modelo
tecnológico do caso da substituição
da fibra de algodão pelo Nylon.
Esse caminho da busca do “substituto perfeito”
(SZMRECSÁNYI;ALVAREZ, 1999) para o açúcar
de cana, mais exigente em capital e tecnologia,
foi também, parcialmente resultado do
resistente e poderoso lobby dos produtores domésticos
de açúcar de cana e beterraba dos
países desenvolvidos que pressionaram seus
governos a adotar políticas protecionistas,
visando garantir empregos e oportunidades de acumulação
para grupos locais, frente às pressões
da indústria alimentar e dos preços
baixos do produto no mercado internacional.
Esse movimento da indústria alimentar envolvia
também a mudança na forma de preparo
dos alimentos, cada vez menos preparados em cozinhas
domésticas, para cada vez mais ‘prontospara-o-uso’
e em refeições fora do domicílio,
assim os adoçantes e óleos deixaram
de ser produtos finais, acrescentados na hora
aos outros ingredientes, para se tornarem insumos
chave dos alimentos processados pela indústria
(WILKINSON, 1999).
Desde o começo do século XIX quando
apareceram os adoçantes à base de
xaropes de amido, passando pela descoberta da
sacarina em 1879 dando início à
era dos adoçantes sintéticos produzidos
pela indústria química ou farmacêutica,
até a descoberta acidental dos ciclamatos
em
1937 e a invenção do aspartame em
1965, num processo que envolveu muito investimento,
tentativas e erro, além de descobertas
inesperadas, a indústria alimentar conseguiu
obter substitutos sintéticos para o açúcar
de cana ou de beterraba (SZMRECSÁNYI;ALVAREZ,
1999).
(1) Originalmente, “moega” designava
a peça coniforme de madeira, superposta
à mó, onde se colocava o grão
a ser triturado no moinho; hoje, é o nome
da esteira rolante, com seção na
forma de um “V”aberto, que conduz
a matéria prima, a granel ou ensacada,
para o interior da fábrica ou dos equipamentos
de fabricação.
Um dos mais bem sucedidos substitutos do açúcar
é a isoglucose ou xarope de amido de milho
alto em frutose (High Fructose Corn Syrup –
HFCS) obtido por via de modernas transformações
biotecnológicas. A razão desse sucesso
é que o amido de milho é, economicamente
falando, uma matéria prima com grandes
vantagens. Quando se extrai o amido de qualquer
grão de milho ainda sobra outra parte (a
proteína) que é pelo menos tão
valiosa quanto o amido, determinando baixos custos
do amido como matéria prima para fabricação
de adoçantes (SZMRECSÁNYI, 1993).
O milho, por sua vez, constitui uma das melhores
e mais baratas fontes de hidratos de carbono,
podendo ser facilmente armazenado e transportado
a longas distâncias, o que é difícil
fazer com a beterraba açucareira e muito
mais difícil com a cana-de-açúcar.
A produção do HFCS é muito
menos dependente de condições naturais
que, ao contrário, ainda dominam a agroindústria
do açúcar (SZMRECSÁNYI, 1989).
Ao tornar-se uma matéria-prima da indústria
o açúcar sofreu uma transformação
ainda maior na sua natureza econômica, tornou-se,
como todas as matérias-primas da grande
indústria, apenas uma “peça
de um sistema de máquinas”, sendo
necessariamente intercambiável e substituível:
os adoçantes derivados de subprodutos de
cereais podem provir virtualmente de qualquer
fonte de amido e os adoçantes sintéticos
independem da produção agrícola.
O açúcar de cana, além disso,
só será utilizado pela indústria
na medida em que garantir custos reduzidos, competitivos,
frente aos seus vários substitutos possíveis.
Inicia-se assim uma determinação
baixista dos preços do açúcar
que não tem mais origem no seu uso como
alimento
para o consumidor final, que não é
mais determinada pela renda e hábitos das
famílias, mas sim pelos custos das alternativas
e dos substitutos disponíveis ao capital
da indústria processadora de
alimentos.
Nos Estados Unidos, essa mudança de qualidade
na determinação do consumo do açúcar
de cana, de bem final, para bem intermediário,
foi acompanhada de grandes mudanças nas
ideologias dietéticas e nutricionais.
A II Guerra Mundial propiciou aos americanos a
experiência do racionamento e da penúria,
abalando a imagem que estes tinham da pátria
como a verdadeira terra da abundância. Esse
sentimento provinha também da constatação
de que a produção era abundante,
mas desperdiçada, ou desviada por esquemas
corruptos que se aproveitavam do esforço
de guerra.
conduz a matéria prima, a granel ou ensacada,
para o interior da fábrica ou dos equipamentos
de fabricação.
O ressentimento desse período só
serviu para alavancar a verdadeira explosão
do consumismo que seguiu a 1948, no chamado baby
boom, quando as preocupações com
a higiene dietética, com a saúde
ou com a gastronomia cederam lugar à preocupação
com a “comodidade” e com a “praticidade”,
apoiadas numa parafernália de produtos
domésticos, geladeiras, freezers, processadores,
e de novidades da indústria alimentar que
deixavam os alimentos em condições
de suportar as novas exigências de “praticidade”.
Somente entre 1949 e 1959, mais de 400 compostos
químicos novos foram aprovados com esta
finalidade, em 1960 já eram 704 os produtos
químicos utilizados pela indústria
alimentar. O espírito da época saudava
com otimismo as novas soluções
“químicas” apresentadas pelos
cientistas (LEVENSTEIN, 1998).
Contrariamente ao que se passava no resto do mundo,
especialmente na Europa, onde a reconstrução
do Pós-Guerra engendrou um movimento de
resgate das raízes e do patrimônio
histórico e cultural, fortalecendo a culinária
regional, os americanos renderam-se unidos, sem
distinções de classe ou outras,
aos encantos da indústria de alimentos
processados que se tornaram ícones de seu
consumismo, como os hambúrgueres, a Coca-Cola,
a batata-frita, etc.
A ideologia governamental do período, ensinada
em todas as escolas, repartições
públicas e na mídia, do estímulo
a consumir sempre alimentos dos cinco grupos principais,
batizada de Newer Nutrition, foi também
entusiasticamente apoiada pela indústria
processadora. Apesar da nova orientação
recomendar o consumo moderado de determinados
grupos de alimentos, como o açúcar
e as gorduras animais, a propaganda da indústria
processadora pôde apresentar seus novos
produtos como indispensáveis para uma alimentação
corretamente balanceada (LEVENSTEIN, 1993).
Os anos 60, com sua onda contestatória,
contra o racismo, contra a Guerra do Vietnan e
a emergência do movimento hippie, representaram
uma virulenta crítica da fatuidade e da
abundância do pós-guerra. Sem dúvida
a conseqüência mais direta desses movimentos,
no campo alimentar, foi o surgimento de alimentos
e dietas “naturais”, “biológicas”
ou “espirituais” de todas as espécies
(LEVENSTEIN, 1993).
Embora os hippies fossem associados com drogas,
as influências do misticismo oriental, e
os vínculos com os movimentos importantes
do passado americano, como as comunidades religiosas
alternativas e o movimento do pastor Graham que
tinham marcado a década de 1830,
criaram um amálgama de idéias que
tocou vários segmentos da sociedade americana
que, a princípio, não tinham nada
a ver com os hippies.
Os movimentos hippies, com a exploração
da sexualidade e da retomada da relação
das pessoas com seu corpo, também criaram
um ambiente propício para a crítica
mais feroz do sistema alimentar americano do baby
boom, que ficou conhecida como Negative Nutrition
(LEVENSTEIN, 1998).
Os partidários da Negative Nutrition, apoiados
em alarmantes estatísticas médicas
de problemas cardíacos e outros causados
pela obesidade elegeram como seu alvo de ataque
os ingredientes chave do complexo de alimentos
duráveis: as gorduras e o açúcar
(LEVENSTEIN, 1993).
As gorduras foram responsabilizadas pela obesidade
e principalmente pelos problemas cardíacos,
em função dos males causados pelo
aumento do colesterol no sangue.
O açúcar foi acusado de ser uma
verdadeira droga, utilizada, com conhecimento
de causa pelos industriais para tornar as crianças
dependentes de seus produtos, inclusive usado
com essa finalidade na associação
com o fumo de cigarro. O “pó branco
cristalizado” foi denunciado como causador
de câncer, doenças cardíacas,
diabetes, problemas dermatológicos, hiperatividade,
lerdeza mental, etc. (LEVENSTEIN, 1998). O mais
famoso livro divulgador dessa tese é o
de William Dufty - Sugar Blues (DUFTY, 1996).
Embora LEVENSTEIN (1998) pareça não
se dar conta do fato, é evidente que esse
movimento deu grande impulso à onda Diet,
que permitiu à indústria alimentar
expandir o mercado para seus adoçantes
sintéticos.
Ao escolher como inimigo o açúcar
e associá-lo à degradação
moral humana numa versão moderna (dependência,
lerdeza mental), a Negative Nutrition não
fazia mais que repercutir as idéias de
1840 do pastor Graham. Nos Estados Unidos, as
cruzadas moralistas sempre tiveram grande apelo
público, mesmo quando as pesquisas científicas
sobre o uso da sacarose não confirmavam
quaisquer das alegações levantadas
contra o açúcar como mostra o trabalho
de (VETORAZZI;MACDONALD, 1989).
A Negative Nutrition recebeu acolhimento tão
favorável na classe média, que quatro
anos depois de ter sido apoiada pelo Senado norte
americano, em 1977, tinha ocupado uma posição
central na política alimentar nacional.
A lipofobia da classe média desenvolveu-se
numa obsessão pelo exercício físico
e por dietas de emagrecimento. No entanto, não
resultou na mínima queda do peso médio
dos americanos no decorrer dos últimos
20 anos, antes pelo contrário (LEVENSTEIN,
1998).
Os movimentos ideológicos no campo da dietética
e da nutrição durante o segundo
regime alimentar acompanharam as mudanças
na estrutura de produção e consumo
do açúcar de cana, atacando o açúcar
branco como maléfico, abriram caminho para
a ampliação do consumo de
adoçantes intensos e possibilitaram a aceitação,
pelos consumidores de alimentos industrializados,
de uma matéria-prima sintética substituta
do açúcar de cana e beterraba e
muito menos dependente de fatores locais e naturais,
terminando, paradoxalmente, por reforçar
o papel do sabor doce na alimentação
moderna.
1.5. De volta ao passado? Respostas do açúcar
de cana no terceiro regime alimentar
A longa história do açúcar
de cana nos revela que o sabor doce continuou
a ser para os seres humanos um sinal importante
para distinção de alimentos e remédios,
mais nutritivos, saudáveis ou
desejáveis, preservando e talvez exacerbando,
uma característica evolutiva do homem após
as grandes transformações resultantes
do surgimento e expansão mundial das relações
capitalistas de produção.
O açúcar permaneceu no centro, tanto
das transformações nas estruturas
produtivas que conformaram os regimes alimentares,
quanto das ideologias nutricionais que justificavam
e defendiam estas transformações.
Hoje, no entanto, o açúcar está
sendo ameaçado por seus concorrentes substitutos.
Após 500 anos de crescimento contínuo,
o consumo mundial de açúcar está
começando a estabilizar-se, entrando numa
fase de crescimento nitidamente mais lento que
o crescimento da população e a tendência
atual é a perda de participação
de mercado do açúcar de cana e beterraba
principalmente para os adoçantes derivados
de amido de cereais como o xarope de milho alto
em frutose (HFCS) e para os adoçantes intensos
sintéticos como o aspartame.
Esse fato é particularmente notado para
os países desenvolvidos. Os países
pobres ainda mantêm um grande potencial
de crescimento do consumo do açúcar
em virtude das atuais restrições
de renda de suas populações. Embora
a América Latina já tenha um elevado
nível de consumo de açúcar
per capita, o aumento do consumo nos países
asiáticos está mantendo os níveis
atuais do consumo mundial de açúcar,
havendo, ainda, expectativas que o fenômeno
se repita para a África.
A participação do açúcar
de cana no mercado mundial de açúcar,
também cresceu dos 55 a 60% desde antes
da segunda guerra para os 72% em 1998 em função
do colapso da produção de açúcar
de beterraba da antiga União Soviética,
projetando uma participação de 80%
nos próximos 20 anos (GENESTOUX, 2000;
GUDOSHNIKOV, 2001).
No entanto, essa última década foi
marcada por crises de superprodução,
níveis de estoques acumulados elevados
e tendências baixistas persistentes nos
preços do açúcar. Os preços
baixos e os
aumentos de produtividade, que tem sido conquistados
pelos países produtores, não tem
conseguido ampliar o mercado nos países
importadores, já que a maioria desses tem
políticas fortemente
protecionistas para suas produções
domésticas de açúcar ou substitutos,
com esses mercados domésticos sofrendo
pouca influência das oscilações
no mercado mundial de açúcar.
Mesmo na Ásia, onde o crescimento do consumo
de açúcar tem acompanhado o crescimento
da renda da população na maioria
dos países da região, o mesmo não
se dá com a China, o mercado de maior interesse
para qualquer produtor de açúcar
do mundo. Na China com o
crescimento da renda da população
não é o consumo de açúcar
que está crescendo, mas o consumo de adoçantes
intensos sintéticos, levantando a hipótese
de que os chineses ainda mantém preferências
culturais pelos paladares mais amargos. Um dos
problemas de mercado dos adoçantes
intensos sintéticos nos mercados do ocidente,
o gosto residual amargo, não encontraria
obstáculos no gosto do consumidor chinês
(HANNAH, 2001; BARON, 2002).
A Ásia é, também, a região
onde a participação de mercado dos
edulcorantes sintéticos tem crescido às
maiores taxas do mundo (SZMRECSÁNYI;ALVAREZ,
1999; BARON, 2002).
O mercado doméstico nos Estados Unidos,
por exemplo, diminuiu em um terço seu consumo
per capta de açúcar entre 1970 e
1983. No início dos anos 90 os adoçantes
derivados do amido de milho, incluindo a isoglucose,
já atingiam 40% do mercado consumidor,
contra 36% do
açúcar (de cana e beterraba) e 24%
dos edulcorantes sintéticos.
É crescente, no mundo todo, tanto a parcela
de mercado dos adoçantes derivados de amido
de milho, como dos adoçantes sintéticos
durante os anos 1980 e 1996. Neste período,
enquanto o açúcar caiu de 88% para
81%, os adoçantes sintéticos subiram
de 3% para 7% e os adoçantes
derivados de amido de milho de 8% para 12% (SZMRECSÁNYI;ALVAREZ,
1999).
Em 1985 a participação dos adoçantes
intensos mais os derivados de amido de milho no
mercado mundial de adoçantes já
era de 19%. Estima-se que em 2005 a participação
dos adoçantes (exceto açúcar)
deverá estar em 30% e acima de 40% por
volta de 2020 Mas pode chegar a 51% ou 52%, quando
significará que não há nenhuma
perspectiva de expansão para o mercado
de açúcar além de 2010 ou
2020 (GENESTOUX, 2000).
Relatório do Serviço de Pesquisa
Econômica do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos indica que entre 1994/95 e
1998/99 o custo médio de produção
do HFSC nos Estados Unidos variou entre 9,82 e
14,47 U.S.cents/pound (HFCS-55, dry weigth), enquanto
o custo de
produção do açúcar
de cana, média das cinco regiões
produtores com os menores custos do mundo (Australia,
Brasil/Centro-Sul, Guatemala, Zambia e Zimbabwe),
em valor equivalente ao branco, variou de 9,92
a 13,23 U.S.cents/pound (HALEY, 2001), mostrando
a alta competitividade do HFCS.
A produção de adoçantes derivados
do milho e de adoçantes sintéticos
em geral envolve um grau muito maior de concentração
de capitais que a produção açucareira
a partir da cana ou da beterraba. As etapas da
produção tanto da isoglucose como
dos adoçantes sintéticos são
constituídas por operações
contínuas e automatizadas, efetuadas por
equipamentos dotados de alta densidade de capital
e sob supervisão de pessoal técnico
altamente especializado. Contudo, o vulto dos
investimentos é amplamente compensado pelos
altos níveis de produtividade alcançados,
pela uniformidade, funcionalidade e economicidade
dos produtos obtidos.
Assim, a produção açucareira
enfrenta atualmente a competição
de uma indústria muito mais concentrada
em capital, capaz de financiar vultosos investimentos
em pesquisa científica e desenvolvimento
tecnológico, lobby político e marketing
para superar os obstáculos à expansão
do
mercado para os seus produtos.
Esse quadro de saturação do mercado
açúcar, aliás, comum a todas
as commodities, tem levado as empresas produtoras
de açúcar a adotarem estratégias
baseadas na diferenciação do produto,
buscando aumentar sua remuneração
pela agregação de valor ao produto.
Hoje é possível
encontrar nas prateleiras dos supermercados açúcar
para consumo final numa ampla variedade de formas.
Desde alterações químicas
na sacarose para redução calórica,
em associação e misturas com
adoçantes sintéticos, com adição
de sabores, açúcar mascavo e “étnicos”
de diferentes qualidades e açúcar
orgânico com diferentes graus de clarificação.
O açúcar, no entanto, não
é como o vinho que aceita bem infinitas
gradações de características.
É necessário distinguir aqui entre
o sabor próprio do açúcar
e sua doçura. É justamente a pureza
química da sacarose, que garante ao açúcar
de cana um “não-sabor”mas doce,
que o torna ideal para ser misturado a outros
ingredientes, sejam eles alimentos ou medicamentos,
de forma a preservar-lhes a individualidade e
facilitar sua aceitação e absorção
(MINTZ, 1999).
Desse modo, assim como o sal, sua pureza química
constitui quase que uma “vocação”
para ser universalmente misturado com quaisquer
outros ingredientes, pré-configurando seu
destino de commodity mundial, e depois, bem intermediário
da indústria de alimentos processados,
o que foi se confirmando com a busca tecnológica
dos seus substitutos sintéticos, a busca
do “substituto perfeito” na expressão
cunhada por (SZMRECSÁNYI;ALVAREZ, 1999).
Justamente, a grande dificuldade tecnológica
dos adoçantes sintéticos foi atingir
um “não-sabor, mas doce” igual
ao do açúcar.
Assim, as estratégias de diferenciação
do açúcar como produto destinado
ao consumidor final, buscando acrescentar qualidades
específicas (e os conseqüentes prêmios
de preço delas decorrentes), mesmo aquelas
que buscam a “naturalização”
ou recuperar a “nobreza artesanal”
do produto, restituem as “impurezas”
ao açúcar. As estratégias
de marketing desses produtos diferenciados tentam
resgatar os usos antigos do açúcar,
como a associação com uma culinária
refinada da classe superior, onde o “sabor
natural” (as impurezas), que novamente se
incorpora ao açúcar acentuando um
sabor particular, próprio, além
de sua doçura, visa recuperar seu antigo
status
de especiaria para gourmets.
Tem restado como alternativa viável para
o marketing voltado ao consumidor final, no entanto,
a associação de sua pureza “natural”
(na verdade, uma pureza química) com a
saúde, atualmente a principal preocupação
dos consumidores de produtos orgânicos,
em vez das
preocupações com o meio ambiente
ou gastronômicas (CERVEIRA;CASTRO, 1999;
COOK, 1999; SLOAN, 2002). Essa pureza “orgânica
e natural” é expressa pela cor mais
escura, pois o “pó branco
refinado” é identificado com o “químico
e artificial”.
Ao adoçar com um açúcar que
tem “sabor próprio”, no entanto,
o gosto dos alimentos é alterado, exigindo
do consumidor um re-aprendizado de sua utilização
que, agora não é mais universal
e passível de ser misturada a todos os
ingredientes, funcionando bem apenas com alguns
e não funcionando bem com outros.
As imposições de comodidade e conveniência
da vida moderna nas grandes cidades não
indicam possibilidades de uma volta dos consumidores
ao hábito de adoçar seus alimentos
no momento de seu consumo final, pois a indústria
alimentar já está produzindo sucedâneos
dos alimentos tradicionais ou “artesanais”
que podem satisfazer a busca dos consumidores
por maior confiança nos alimentos. Encontram-se
nos supermercados toda sorte de produtos “naturais/tradicionais”
já prontos-para-o-uso, isto é, já
adoçados.
Assim, as estratégias baseadas na diferenciação
de produto, diferentemente da maioria dos outros
alimentos, no caso do açúcar como
mercadoria para o consumidor final, enfrentam
limites e entraves muito grandes devendo conquistar
espaços residuais e nichos muito específicos
de consumidores, com pouca expressão de
mercado.
Essas dificuldades são decorrentes do lugar
que o açúcar ocupa na estrutura
produtiva do sistema agroalimentar, o qual se
assenta sobre a sua pureza química, ou
seja, na sua vocação para o mercado
de matéria-prima para produtos processados,
seja ele convencional ou orgânico.
Por outro lado, a incorporação do
mercado orgânico ao mainstream, com a entrada
das transnacionais gigantes da indústria
processadora de alimentos, deverá colocar
para o açúcar como insumo dessa
indústria o problema do descompasso entre
a oferta reduzida e a demanda elevada de açúcar
orgânico, já que este seria uma matéria-prima
essencial das novas linhas de alimentos orgânicos
processados, os quais no momento não possuem
substitutos para o açúcar de cana
ou beterraba em condições de atender
essa demanda crescente.
Um período prolongado de demanda elevada
de açúcar orgânico, dependendo
da velocidade de crescimento e do volume final
alcançado por essa demanda, poderá,
portanto, significar oportunidades para os produtores
de açúcar de cana e de beterraba.
Qual será, no entanto, a extensão
e intensidade desse crescimento da demanda para
o açúcar orgânico? Terá
algum efeito no sentido de amenizar a tendência
dominante de perda de participação
de mercado do açúcar para os adoçantes
sintéticos e para os adoçantes derivados
do milho?
Apesar da completa hegemonia dos conceitos da
Negative Nutrition nas ideologias dietéticas
contemporâneas, tem havido, recentemente,
um movimento de revisão dos seus excessos.
Constantemente estão sendo divulgadas novas
pesquisas médicas que voltam a valorizar
o papel desempenhado pelas gorduras e pelo açúcar
na saúde humana, inclusive para a eficácia
das dietas de emagrecimento. A ênfase, agora,
é na qualidade individual dos nutrientes
nos alimentos: fala-se em “boas” gorduras
(presentes no azeite de oliva e nas nozes) e “bons”
açúcares (presentes nas frutas e
cereais) (COWLEY, 2003).
O influente crítico gastronômico
da revista Vogue, no entanto, vai mais longe e
faz uma apaixonada defesa do açúcar
contra seus críticos, acusando as “nutricionistas
da década de 70” de terem levado
os EUA ao pânico irracional em relação
ao açúcar refinado (STEINGARTEN,
2000).
Os adoçantes sintéticos, por sua
vez, são hoje alvo de sérias acusações
médicas e estão submetidos a restrições
e regulação por órgãos
governamentais de saúde devido a seu potencial
cancerígeno.
Ainda timidamente, e num ambiente bastante confuso,
começam a ser combatidas e enfraquecidas
as ideologias dietéticas que apoiaram a
substituição dos adoçantes
naturais pelos sintéticos (ou biotecnológicos)
na indústria alimentar.
Apesar dessas mudanças no “clima”
ideológico das prescrições
dietéticas favorecerem os adoçantes
naturais, a tendência dominante será
a manifestação crescente dos atuais
problemas de mercado do açúcar convencional
também no mercado do açúcar
orgânico, quando esse consolidar uma participação
mais expressiva no mercado de açúcar.
A busca da indústria alimentar pelo “substituto
perfeito” do açúcar dificilmente
se fará deter pelas exigências da
certificação orgânica. Os
atuais problemas de oferta de adoçantes
orgânicos como matéria-prima da indústria
alimentar orgânica poderão ser solucionados
por meio dos
adoçantes orgânicos naturais alternativos,
tais como o steviosídeo e os derivados
de amido de milho e outros cereais, ou de batata,
opções estas que já existem
no mercado como produtos orgânicos certificados.
1.6. Observações finais
A história do açúcar, relatada
neste capítulo, no contexto dos diferentes
regimes alimentares da Humanidade, evidenciou
que ele se tornou um bem de consumo de massa,
submetido ao processo de industrialização
que acompanhou o desenvolvimento das relações
capitalistas de
produção em sua expansão
mundial.
Nesta trajetória, o açúcar,
embora ainda seja um bem de consumo final importante,
sobretudo em países de menor renda, ele
tornou-se crescentemente uma matéria-prima
para a indústria de alimentos e bebidas.
Parece não haver dúvidas que este
também será o destino do
açúcar orgânico. Desse modo,
o mercado de açúcar orgânico
deverá ter seu crescimento vinculado ao
crescimento dos alimentos orgânicos processados
onde ele se apresenta como insumo.
Por enquanto, o açúcar orgânico
de cana tem levado vantagem sobre seus concorrentes
substitutos orgânicos, ocupando boa parte
do espaço aberto pelo crescimento da demanda
desse tipo de açúcar. No mercado
convencional, os maiores custos do açúcar
de beterraba frente aos custos do açúcar
de cana não tem significado um predomínio
significativo deste último em função
das políticas protecionistas que marcaram
e ainda marcam o mercado mundial de açúcar
(RAMOS,
2001).
No mercado orgânico, as vantagens do açúcar
de cana frente ao açúcar orgânico
de beterraba são bastante ampliadas. Referem-se
à maior adaptabilidade da cana-de-açúcar
à produção pelo sistema orgânico
e à possibilidade de eliminação
de substâncias químicas no seu processo
industrial. No entanto, sendo o mercado orgânico
um mercado de consumidores ricos, de países
ricos, o protecionismo pode mais que compensar
essas desvantagens do açúcar orgânico
de beterraba frente ao de cana.
O açúcar orgânico representa,
em certo sentido, uma resposta do açúcar
de cana aos ataques da Negative Nutrition e pode
contribuir para recuperar a imagem deste como
alimento mais “natural” em relação
ao “biotecnológico” HFCS e
mais saudável frente aos seus substitutos
sintéticos.
Esta “revanche” do açúcar
de cana pode representar, no entanto, apenas uma
pausa, uma “brecha”, até que
a indústria de alimentos orgânicos
processados desenvolva também novos substitutos
orgânicos para o açúcar orgânico
de cana ou de beterraba. Será essa possível
brecha, no entanto, importante para o processo
de reestruturação do setor canavieiro
do Brasil? Em qualquer caso, o aproveitamento
dessa brecha de mercado pela agroindústria
canavieira do Brasil, se este
ocorrer, dependerá tanto das condições
tecnológicas e regulatórias que
conformarão o futuro da certificação
orgânica no mercado de adoçantes,
quanto dos próprios resultados dessa reestruturação.
Sugestões e comentários:
antoniostorel@uol.com.br
storel@eco.unicamp.br
Referências Bibliográficas
ABRAMOVAY, R. Dilemas da União Européia
na reforma da política agrícola
comum. (Tese de Livre-Docência). Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 1999. 132 p.
AMIN, A.;ROBINS, K. Regresso das Economias Regionais?
- A geografia mítica da acumulação
flexível. In: BENKO, G.;LIPIETZ, A.
(Eds.). As regiões ganhadoras - distritos
e redes: os novos paradigmas da geografia econômica.
Oeiras Portugal: Celta Ed., 1999
BARON, P. Selected key issues shaping the future
of the world sugar economy. International Sugar
Journal, v.104, n.1244, p.362-373.
2002.
BONANO, A. A globalização da economia
e da sociedade: fordismo e pós-fordismo
no setor agroalimentar. In: CAVALCANTI, J. S.
B.
(Ed.). Globalização, trabalho, meio
ambiente: mudanças socioeconômicas
em regiões frutícolas para exportação.
Recife - PE: Ed. Universitária da UFPE, 1999, p.47-94
BYÉ, P. As tecnologias genéricas
levam ao desaparecimento das técnicas agroalimentares
de origem? In: MALUF, R. S.;WILKINSON,
J. (Eds.). Reestruturação do sistema
agroalimentar: questões metodológicas
e de pesquisa. Rio de Janeiro: MAUAD, UFRRJ/CPDA,
REDCAPA, 1999, p.45-60
CANABRAVA, A. P. O Açúcar nas Antilhas
(1697-1755). São Paulo - SP: IPE / USP
Instituto de Pesquisas Econômicas da
Universidade de São Paulo. 1981. 264 p.
CERVEIRA, R.;CASTRO, M. C. D. Consumidores de
produtos orgânicos da cidade de São
Paulo. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS,
v.29, n.12, dezembro, p.7-20. 1999.
COOK, R. L. The rapidly expanding market for organic
foods. Department of Agricultural & Resource
Economics University of
California Davis. Davis: january, p.27. 1999
COWLEY, G. Building a better way to eat. Newsweek,
v.CXLI, n.03, january 20, p.32-36. 2003.
DEERR, N. The History of Sugar. London: Chapman
and Hall. v.1. 1949. 259 p.
DUFTY, W. Sugar Blues. São Paulo: Ground.
1996. 197 p.
FISCHLER, C. La moral de los alimentos:el ejemplo
del azúcar. In. El (h)omnívoro:
el gusto, la cocina y el cuerpo. Barcelona:
Anagrama, 1995, p.265-294
FLANDRIN, J.-L. Da dietética à gastronomia,
ou a libertação da gula. In: FLANDRIN,
J.-L.;MONTANARI, M. (Eds.). História da
Alimentação. São Paulo: Estação
Liberdade, 1998, p.611-624
FONTE, M. Food systems, consumption models and
risk perception in late modern society. In: XXXVIII
Congresso da SOBER. Rio
de Janeiro, 2000.
FRIEDLAND, W. H. The new globalization: the case
of fresh produce. In: BONANO, A.;ALLI, E. (Eds.).
From Columbus to
ConAgra: The Globalization and Agriculture and
Food. Lawrence: University Press of Kansas, 1994,
p.210-231
FRIEDMANN, H. Uma Economia Mundial de Alimentos
Sustentável. In: BELIK, W.;MALUF, R. S.
(Eds.). Abastecimento e
Segurança Alimentar: Os limites da liberalização.
Campinas - SP: IE / Unicamp - Instituto de Economia
da Universidade Estadual de
Campinas, 2000, p.01-21
FRIEDMANN, H.;MCMICHAEL, P. Agriculture and State
System. Sociologia Ruralis, v.29, n.2, p.93-117.
1989.
GENESTOUX, P. D. Tendências, desafios e
perspectivas para a produção mundial
de cana, açúcar e os mercados. Revista
da STAB,
v.18, n.5, maio/junho. 2000.
GOODMAN, D. Agro-Food Studies in the ‘Age
of Ecology’: Nature, Corporeality, Bio-Politics.
Sociologia Ruralis, v.39, n.1, april,
p.17-39. 1999.
_____. A regulação da agricultura
orgânica nos Estados Unidos: uma vitória
arrasadora? Meio Ambiente & Agricultura, n.30,
abr/mai/jun. 2000.
GOODMAN, D.;DUPUIS, E. M. Knowing food and growing
food: beyond the production-consumption debate
in the sociology of
agriculture. Sociologia Ruralis, v.42, n.1, january,
p.6-22. 2002.
GOODMAN, D.;WATTS, M. Reconfiguring the rural
or fording the divide? Capitalist restructuring
and the global agro-food system.
Journal of Peasant Studies, v.22, n.1, p.1-49.
1994.
GREEN, R.;SANTOS, R. R. D. Economía de
red y restructuración del sector agroalimentario.
In: Cambio tecnico y restructuración
del sector agroalimentario. Madrid - España.
9 a 11 diciembre, 1991.
GREEN, R.;SCHALLER, B. La dimensión logística
de la racionalización productiva y comercial.
In: MALUF, R.;WILKINSON, J.
(Eds.). Reestruturação do sistema
agroalimentar: Questões metodológicas
e de pesquisa. Rio de Janeiro: UFRRJ/CPDA, Redcapa
e
MAUAD, 1999
GUDOSHNIKOV, S. The sugar industry in Ukraine:
no signs of recovery. International Sugar Journal,
v.103, n.1226, p.58-62. 2001.
GUTHMAN, J. Agrarian dreams? The paradox of organic
farming in California. (PhD Thesis). Geography
Department, University
of California, Berkeley, 2000. 469 p.
HALEY, S. L. U.S. and World Sugar and HFCS production
cost, 1994/95-1998/99. Sugar and Sweetener Situation
and Outlook
Report, n.SSS-232, September, p.10-13. 2001.
HANNAH, T. Asia - Will it continue as the cutting
edge of the world sugar economy? International
Sugar Journal, v.103, n.1230,
p.255-258. 2001.
HARVEY, D. Justice, Nature and the Geography of
Difference. Malden MA USA: Blackwell. 1996
HOWARD, A. Un Testamento Agrícola. Santiago
- Chile: Imprenta Universitaria. 1947. xxi+237
p.
IFRAH, G. História Universal dos Algarismos.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1997. 1046 p.
INTERNATONAL TRADE CENTRE. Organic food and beverages:
world supply and major european markets. Geneva:
International
trade centre UNCTAD/WTO. 1999. 271 p. (Product
and Market Development)
LEMPS, A. H. As bebidas coloniais e a rápida
expansão do açúcar. In: FLANDRIN,
J.-L.;MONTANARI, M. (Eds.). História da
Alimentação. São Paulo: Estação
Liberdade, 1998, p.611-624
LEVENSTEIN, H. Revolution at the Table: Transformation
of the American Diet: Oxford University Press.
1988
_____. Paradox of Plenty: Social History of Eating
in Modern América: Oxford University Press.
1993
_____. A Dietética contra gastronomia:
tradições culinárias, santidade
e saúde nos modelos de vida americanos.
In: FLANDRIN, J.-
L.;MONTANARI, M. (Eds.). História da Alimentação.
São Paulo: Estação Liberdade,
1998, p.825-840
LIPPMANN, E. O. V. História do Açúcar:
Desde a época mais remota até o
começo da fabricação do açúcar
de beterraba. Rio de
Janeiro: Instituto do Açúcar e do
Álcool. 1941. 467 p.
LOHR, L. Implications of Organic Certification
for market structure and trade. American Journal
of Agricultural Economics, n.5,
p.1125-1129. 1998.
MARSDEN, T. Globalization, the State and the Environment:
Exploring the Limits and Options of State Activity.
International Journal
of Sociology of Agriculture and Food, v.4, p.139-157.
1994.
_____. Produccion, mercados, regulacion y tecnologias
en los rubros organicos. PROCISUR/ BID. Montevideo
Uruguay. 1999.
(Serie resumenes ejecutivos nº 8)
MINTZ, S. W. Sweetness and Power - The place of
sugar in modern history. New York - NY USA: Viking
Penguim Inc. 1985. xxx
+ 274 p. (Elisabeth Sifton Books)
_____. Sweet Polychrest. Social Research, v.66,
n.1, spring. 1999.
RAMOS, P. O mercado mundial de açúcar
no período 1930-1960. Revista de Política
Agrícola, n.04, out.,nov.,dez., p.26-33.
2001.
SAVARIN, B. A Fisiologia do Gosto. São
Paulo: Companhia das Letras. 1995. 380 p.
SLOAN, E. A. The Natural & Organic Foods Marketplace.
Food Technology, v.56, n.1, january, p.27-37.
2002.
STEINGARTEN, J. Doces assassinos. In: STEINGARTEN,
J. (Ed.). O homem que comeu de tudo: Feitos gastronômicos.
São Paulo:
Companhia das Letras, 2000, p.216-220
SWIENTEK, B. Top 100 food companies world wide
part 2: USA, Asia, Latin America. Food Engineering
& Ingredients, December,
p.22-24. 2000.
SZMRECSÁNYI, T. Concorrência e complementariedade
no setor açucareiro. Cadernos de Difusão
de Tecnologia, v.6, n.2-3,
maio/dezembro, p.165-182. 1989.
_____. Efeitos e desafios das novas tecnologias
na agroindústria canavieira. DPCT / IG
/ UNICAMP. Campinas - SP. 1993. (Texto
para Discussão nº 13)
SZMRECSÁNYI, T.;ALVAREZ, V. M. P. The search
for a perfect substitute: Technological and economic
trajectories of synthetic
sweeteners, from saccharin to aspartame (C. 1880-1980).
DPCT/IG/UNICAMP. Campinas-SP, p.24. 1999. (Texto
para Discussão n. 28)
TOPIK, S. C. Sweet Industry: The first factories.
World Trade, june, p.102. 1998.
VETORAZZI, G.;MACDONALD, I. Sacarose: Aspectos
nutricionais e de segurança no uso do açúcar.
São Paulo: Hucitec. 1989
WEINBERG, B. A.;BEALER, B. K. The World of Caffeine.
In. UK: Routledge, 2001, p.394
WILKINSON, J. Perfís emergentes no setor
agroalimentar. In: MALUF, R.;WILKINSON, J. (Eds.).
Reestruturação do Sistema
Agroalimentar: Questões metodológicas
e de pesquisa. Rio de Janeiro: UFRRJ/CPDA, Redcapa
e MAUAD, 1999, p.27-43
_____. From dictatorship of supply to the democracy
of demand?: Transgenics, Organics, and the dynamics
of demand in the
agrofood system. In: XXXVIII Congresso da SOBER.
Rio de Janeiro, 2000.
_____. Sociologia econômica, teoria das
convenções e o funcionamento do
mercado: inputs para analisar os micro e pequenos
empreendimentos agroindustriais no Brasil. Ensaios
FEE, n.2, p.421-442. 2002.
YUSSEFI, M.;WILLER, H. Organic Agriculture Worldwide
2002: Statistics and Future Prospects. SÖL.
Bad Dürkheim, p.157. 2002
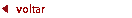 |
|